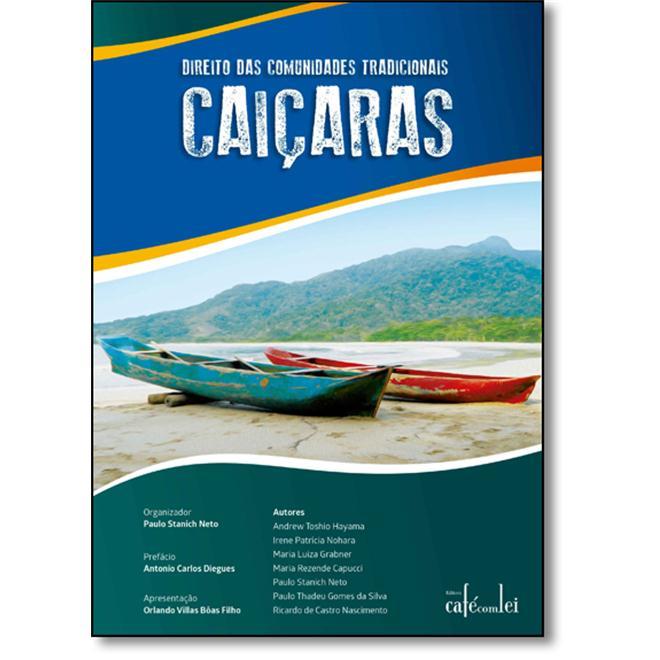A coloquialmente denominada questão da ficha limpa envolve uma discussão constitucional bastante interessante. O quadro atual no qual ela se apresenta resume-se em saber se a Lei Complementar n. 135, de 4/06/2010, nos vários artigos que positivam a redação “decisão proferida por órgão colegiado”, é constitucional ou não. Essa lei complementar veio regulamentar o disposto no artigo 14, § 9, da Constituição Federal, que dispõe que “Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”.
A questão não é nova. Na década de 1970, o Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, no RE n. 86297, que a inelegibilidade prevista no artigo 1, I, n, da Lei Complementar n. 5/70, era parcialmente constitucional. Esse artigo preceituava: “Art. 1: São inelegíveis: I: para qualquer cargo eletivo: n) os que tenham sido condenados ou respondam a processo judicial, instaurado por denúncia do Ministério Público recebida pela autoridade judiciária competente, por crime contra a segurança nacional e a ordem política e social, a economia popular, a fé pública e a administração pública, o patrimônio ou pelo direito previsto no art. 22 desta Lei Complementar, enquanto não absolvidos ou penalmente reabilitados”.
Esse caso é bastante interessante porque nele o STF decidiu que a cláusula de abertura constante do então artigo 153, § 36, Constituição de 67/69, hoje transcrito no artigo 5, § 2, da Constituição atual, não albergava o princípio da presunção da inocência, de vez que na Constituição de 67/69 esse direito fundamental não veio positivado expressamente em seu texto. Os votos então proferidos, muito bem fundamentados, são verdadeiras aulas de direito, daí decorrendo a impossibilidade de sua descrição neste espaço.
Ao lado do destaque já feito acima, pode-se extrair, como resumo, que a quaestio juris se refere à possibilidade ou não de se aplicar a presunção de não culpabilidade às causas de inelegibilidade que se fundem em aspectos relativos à moralidade do candidato, redação essa prevista no artigo 151, da Constituição de 67/69 e no 14, § 9, da Constituição atual. A perfeita tradução dessa questão é representada pela natureza que se deva conferir à própria inelegibilidade: é ela pena ou não? Se considerá-la como pena o princípio da presunção da não culpabilidade incidirá e a consequência dessa incidência será a de se considerar inconstitucional a redação da lei complementar atual que não traga consigo a exigência do trânsito em julgado, tendo em vista o disposto no artigo 5, LVII, da Constituição atual; se não for considerada pena, o princípio não incidirá.
Essa foi a tônica do voto vencedor do Min. Arnaldo Versiani, do TSE, em resposta à Consulta n. 1147-09.2010.6.00.0000, que firmou, por maioria, a premissa de que a inelegibilidade não é pena, trazendo à colação a compreensão construída pelo próprio TSE nos Recursos n. 9797/92 e 8818/90, como também do STF no MS n. 22.087. Para complicar um pouco mais o quadro de discussão constitucional, é forçoso lembrar que na ADPF n. 144 o STF decidiu, por maioria, julgando improcedente a ação, que a norma do artigo 14, § 9, da Constituição Federal não é auto-aplicável, contudo, não houve uma uniformidade nos fundamentos apresentados, sendo certo que em alguns votos ficou a compreensão de que mesmo com a regulamentação do dispositivo por lei complementar – o que já é realidade neste momento – haveria a necessidade de trânsito em julgados de decisões judiciais que se referissem à improbidade do candidato, interpretação essa que consta de forma bastante forte na Ementa do Acórdão.
Do ponto de vista político é irônico que se esteja a discutir esse tipo de questão constitucional, pois que ela existiu nos tempos de ditadura militar; do ponto de vista histórico demonstra que não há uma linearidade da história em direção a um mundo novo e sem recorrências ao passado; do ponto de vista jurídico-constitucional o STF terá de se manifestar, novamente, a respeito do tema. É isso. Sapere Aude! Paulo Thadeu.