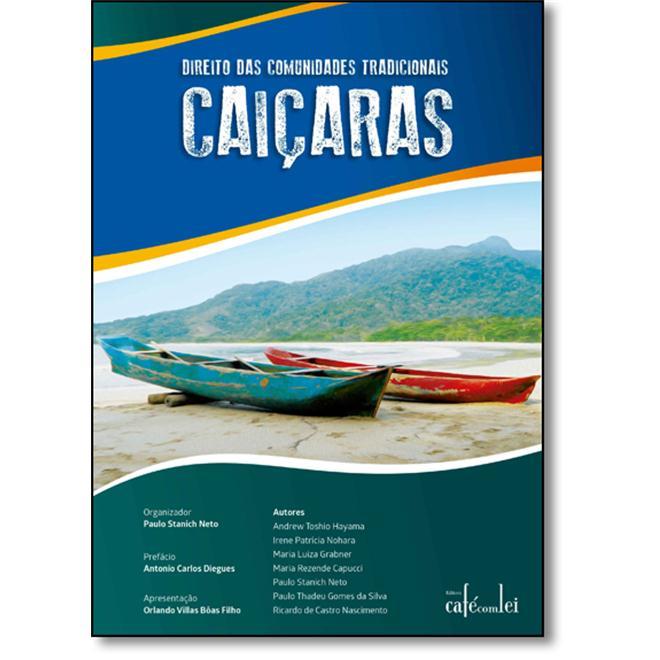Está consolidada na teoria a ideia de que direitos humanos se referem ao campo da política, sendo dela objeto, enquanto que direitos fundamentais se referem ao direito, sendo dele objeto; para a primeira, direitos humanos seriam matéria a ser objeto de decisão ou não, pois que o sistema jurídico não está obrigado a decidir, além do que, do ponto de vista do “fazer a política”, os direitos humanos se constituem em tema guia, por exemplo, na construção das relações internacionais; para o segundo, direitos fundamentais são aqueles positivados na ordem constitucional, na infraconstitucional e na internacional, desde que incorporada, por procedimento próprio, à ordem nacional.
Há quem discorde dessa separação de termos, por exemplo, Ubiratan Cazetta (Direitos Humanos e Federalismo: O incidente de deslocamento de competência, Atlas, SP, 2009) cita Luciano Maia, para quem seria desnecessária a clivagem de que aqui se trata, e isso porque a própria Constituição Federal utiliza, sem a pretensão de diferenciar um termo do outro, tanto direitos humanos como direitos fundamentais. Não sem uma ponta de razão, de fato a Constituição não parece querer expressar diferenças no uso dos termos, pois que quando se refere a direitos humanos está a se referir, ao mesmo tempo, a direitos fundamentais. A distinção, criada pela teoria, teria finalidade apenas metodológica, na linha de uma compreensão maior das diferenças existentes entre a política e o direito do que entre direitos humanos e direitos fundamentais, estes que, substancialmente, ontologicamente, afigurar-se-iam como tendo o mesmo conteúdo.
Todavia, a distinção proposta pela teoria pode ser válida para a compreensão da própria Constituição como alguma coisa não pertencente, exclusivamente, ao direito, mas também à política. Daí a positivação de normas constitucionais que se utilizam dos termos direitos humanos e direitos fundamentais, servindo os primeiros à política, e os últimos ao direito. Seja como for, a distinção também pode cumprir outro papel constitucional e que é representado pela seguinte ideia: ao distinguir direitos humanos de direitos fundamentais e, por conseguinte, política de direito, a Constituição Federal permite a reflexão sobre esse tema pelo enfoque político e pelo enfoque jurídico. Numa primeira mirada essa afirmação pode parecer tautológica, de vez que descreve a si mesma, entretanto, e já num aprofundamento da reflexão a ser feita, ela pode significar a possibilidade de se esclarecer, por exemplo, o uso perverso e desviante, pela política, da categoria direitos humanos, e a ideologia que subjaz a determinado ordenamento constitucional, v.g., o brasileiro, contemplando, de forma bastante generosa, direitos de liberdade, e de forma um tanto ou quanto tímida, direitos de igualdade, especialmente a de caráter material.
No que diz com a utilização desviante da ideia de direitos humanos, é ela indicada por SLAVOJ ZIZEK, em texto cujo sugestivo título é Contra os direitos humanos (Against human rights, New Left Review 34, julho-agosto 2005, p. 115-131). Nesse texto o autor trabalha, numa perspectiva crítica, com os três fundamentos de maior apelo dos direitos humanos. São eles: a) os direitos humanos funcionam como oposição aos modos de fundamentalismo; b) os direitos mais básicos são a liberdade de escolha e o direito de se dedicar à busca de prazer; c) os direitos humanos podem formar a base para a defesa contra os excessos de poder. Não é o caso, aqui, de se esmiuçar as reflexões propostas por ZIZEK nesse texto, pois que faltaria espaço a tanto, o que não impede que se descrevam algumas de suas ideias. Por primeiro destaque-se que o título conferido ao artigo não corresponde ao que foi articulado em seu corpo, e assim se argumenta porque o autor, em verdade, desfere sérias críticas à concepção ocidental e liberal-capitalista de direitos humanos sem, contudo, pregar a sua pura e simples extinção: critica, portanto, o mau uso que se faz da própria ideia de direitos humanos. Nessa crítica sobressaem aspectos que dizem respeito às tais intervenções humanitárias levadas a cabo por países ocidentais e que, em realidade, encobrem interesses outros, especialmente quando se trata de acusar civilizações de um certo fundamentalismo baseado numa intolerância que foi gestada na mesma sociedade ocidental que agora ocupa posição acusatória; na mesma linha é de se destacar a construção de um conceito de liberdade de escolha que encobre eventual ausência de opções se se levar em consideração determinadas pessoas e grupos sem direitos. Nesse quadro os argumentos de ZIZEK bem podem ser compreendidos como atinentes à política, pois que os exemplos fornecidos mais se aliam a um certo “fazer a política” do que ao direito em si mesmo considerado.
De igual efeito, o pensamento lançado nesse artigo serve à análise do próprio direito, em especial dos direitos fundamentais e mais especialmente ainda no que guarda relação de pertinência com o conceito de liberdade. Isso quer dizer que, numa perspectiva crítica, há a possibilidade de se construir um conceito de liberdade no interior do sistema jurídico e por meio da interpretação constitucional no sentido de se considerá-lo, também e à semelhança do conceito de igualdade, como um conceito relacional. Afasta-se, assim, do conceito proposto por BOBBIO, para quem a distinção entre igualdade e liberdade residiria exatamente em que igualdade é relação (igual a quem e em quê) e liberdade não implica relação, pois que a expressão “X é livre”, por si só, produz algum significado, faz algum sentido. Essa forma de conceituar liberdade, a par de mesmo no continente europeu não encontrar muito eco, desde que se pense na jurisprudência construída pelo Tribunal Constitucional Federal alemão a partir do caso conhecido como Numerus Clausus, no qual ficou expresso o entendimento de que a fruição da liberdade depende das condições materiais que dão suporte ao exercício desse direito, também tem de ser revista em país como o Brasil, que ostenta níveis insuportáveis de exclusão social. Liberdade, aqui e então, também tem de ser tomada como um conceito de relação: livre com relação a quem e para fazer o quê?
O que vem de ser escrito permite o exercício de uma interpretação constitucional numa perspectiva crítica, que significa refazer o conceito do direito de liberdade como relação social, o que produz consequência na comparação que se faça desse direito com o direito de igualdade, estes que, a partir da premissa aqui defendida, passam a se manifestar de forma conjunta, o que demonstra, de igual efeito, a inutilidade de se classificar os direitos fundamentais em gerações. Na mesma linha, e ainda que a interpretação que se faça da Constituição tome esse texto como algo produzido numa sociedade liberal e de mercado, há a possibilidade de que as normas constantes desse texto sejam interpretadas de maneira a conferir ao direito de igualdade um lugar no interior do conceito de liberdade e vice-versa, fazendo com que um dependa do outro e não mais se absolutizando um em detrimento do outro.
Por certo que a crítica aos direitos fundamentais deve ser feita, o que não parece adequado do ponto de vista teórico é a defesa de sua simples e pura extinção ao fundamento de que é produto de uma sociedade ocidental. Nesse sentido a crítica deve ser endereçada à forma pela qual os direitos humanos são utilizados, o que pode produzir uma proposta de troca de nome do artigo de ZIZEK, cujo título “Contra os direitos humanos” cede lugar ao título “Direitos humanos: modo de usar”.